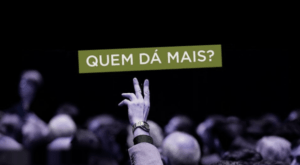Às vésperas do pleito eleitoral o governo federal corre para atender interesses financeiros na privatização da Eletrobras. A medida é controversa e alvo de críticas por parte de diferentes segmentos da sociedade, mas recebeu aval com ressalvas do Tribunal de Contas da União.
Embora na última campanha presidencial o então candidato Bolsonaro tenha se posicionado contra a venda de ativos estatais do setor energético, a privatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina – uma das maiores do mundo em energia renovável – tem sido a grande obsessão da sua equipe econômica, que mais recentemente externou a mesma intenção com relação à Petrobras. A proposta é extemporânea e, infelizmente, segue a mesma linha “negacionista” assumida pelo executivo federal na gestão da pandemia do coronavírus e dos eventos extremos em decorrência do fenômeno das mudanças climáticas.
A atual proposta de privatização da Eletrobras foi editada na forma de medida provisória (MP 1.031/2021) e encaminhada em regime de urgência ao congresso nacional no início do ano passado, enquanto o Brasil registrava recordes de casos e mortes por Covid-19. À época, o Ministro da Economia argumentou que ela fazia parte das prioridades do governo no combate à pandemia.
Durante a tramitação no parlamento a proposta acabou incorporando os famosos “jabutis”. Sem dúvida, o maior deles é a contratação de usinas térmicas a gás. O relator do projeto na Câmara Federal, Deputado Elmar Nascimento (União Brasil, nascido da fusão entre Democratas e PSL) incluiu no texto a exigência de contratação de térmicas a serem instaladas em estados da federação onde não existe gás, nem gasoduto. Esse ponto tem gerado muitas críticas por parte do setor produtivo que estima que o custo adicional possa ultrapassar R$ 100 bilhões. Isto mesmo, um jabuti de cem bilhões! (ver documento da Abrace – Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e dos Consumidores Livres).
No entanto, a resposta à questão levantada no título deste artigo não passa pelos “jabutis” ou por quem os colocou lá, mas sim por uma política adotada pela presidente Dilma Roussef há uma década.
A renovação das concessões do setor elétrico em 2012
Setembro deste ano marca o aniversário de dez anos da edição da polêmica Medida Provisória nº 579 de 2012 (MP 579), que definiu as condições para a prorrogação de um conjunto importante de concessões de energia elétrica. Os sucessores de Dilma atuaram incansavelmente no sentido de revertê-la. Uma tentativa fracassada (PL 9.463/2016) foi enviada ao congresso nacional pelo executivo federal poucos dias após o impeachment da presidente.
Em síntese, a política adotada estabeleceu que concessões a vencer – usinas hidrelétricas (UHEs) e sistemas de transmissão – permanecessem sob a operação das empresas (estatais) praticando tarifas módicas. O objetivo central era provocar uma mudança estrutural no patamar da tarifa de energia elétrica brasileira, que é uma das mais caras do mundo. A medida acabou alcançando apenas as concessões da Eletrobras. Outros grupos envolvidos – Cemig, Cesp e Copel – não aceitaram as condições de renovação, que se resumiam no pagamento de um valor a título de indenização por ativos não amortizados e novas tarifas ao custo de operação e manutenção.
Com energia hidráulica disponível (descontratada), estas empresas puderam auferir “lucros extraordinários” durante o início da crise hídrica de 2014/2015 (ver auditoria do TCU 2014)[1]. Contudo, a partir de 2016 a vigência dos contratos de concessão expirou. No contexto da política de ajuste fiscal do governo federal as concessões passaram a ser leiloadas pelo critério de maior oferta de pagamento de outorga em detrimento do critério de menor tarifa. A União arrecadou cerca de R$ 25 bilhões em bônus e a operação das UHEs foi concedida a grupos estrangeiros, estatais e privados.
Para a Eletrobras o resultado da MP 579 foi outro. As concessões permanecem sendo operadas pelas empresas do grupo – Chesf, Eletronorte e Furnas – e a energia das UHEs renovadas foi alocada em regime de cotas para o mercado cativo (pequenos consumidores). Uma “inovação” regulatória que há dez anos representa a energia mais barata contratada pelas distribuidoras, respondendo por 20% do total dos contratos.
A medida resultou numa expressiva queda da tarifa final em 2013, mas a redução foi passageira e logo no ano seguinte as tarifas voltaram a aumentar por várias razões, dentre elas a crise hídrica, a não adesão de parte das geradoras, e também problemas inerentes à própria medida.
Gustavo Teixeira – pesquisador do FINDE/UFF e Ilumina
Leia a matéria completa no site GGN clicando no link abaixo. Prestigie o jornalismo independente.
https://bit.ly/3MBZV0A